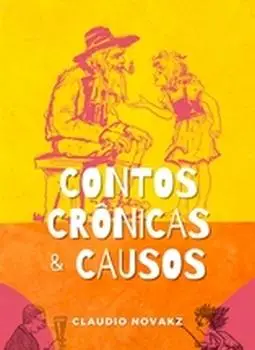GAROTA DO JOB
Era mais um daqueles dias em que São Paulo parecia lavando a alma à força. Chuva que não vinha apenas de cima, mas dos lados, de baixo, de todas as direções. E eu ali, caminhando apressado pela Paulista, com um guarda-chuva que já tinha desistido de ser guarda-chuva e muito menos de me proteger. As hastes pareciam as pernas de um inseto perecendo, tremendo ao vento, inúteis.
Enquanto esperava o farol abrir, reparei em volta. A cidade inteira parecia ensopada de pressa. Gente correndo, tropeçando, se escondendo sob marquises, sacolas, revistas, e se esbarrando umas contra as outras, tentando encontrar proteção sob um toldo qualquer. E foi aí que eu vi a tal figura, a uns bons metros de mim, parada como se estivesse num comercial de perfume: um guarda-chuva vermelho, gigante, reluzente, emoldurando uma mulher bonita demais pro horário e pro clima. Ela não parecia com frio, não parecia com pressa, parecia um acidente de enredo.
Veio caminhando até mim com um sorriso fácil, desses que vêm antes da voz, e perguntou, como quem oferece um lugar ao sol:
“Quer uma carona?”
Carona de guarda-chuva. Eu repito isso e ainda acho que sonhei, mas aceitei, não poderia recusar, afinal de contas, a vida é curta e o meu ombro estava pingando. Ela passou o braço pelo meu como se fôssemos um casal de velhos amigos que acabaram de se encontrar. E seguimos assim, tropeçando entre as poças, dividindo a sombrinha vermelha como quem divide segredo.
Depois de uns metros e umas risadas abafadas, ela olhou pra mim e quebrou o gelo com aquela pergunta-padrão:
“Você faz o quê?”
Suspirei antes de responder. Ser contador não soa exatamente como uma profissão de filme, é o tipo de palavra que desidrata a conversa, mas respondi sem floreio, sem desculpa.
“Trabalho com contabilidade.”
Ela sorriu. E, do nada, balançou meu braço com uma empolgação meio adolescente, como quem diz: tá tudo bem, vai. Aí eu percebi que era minha vez, que ela estava esperando a pergunta de volta, com aquele silêncio de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer, mas quer ver como você vai reagir.
Então perguntei. Não do jeito certo, talvez. Mas com a curiosidade genuína de quem já está envolvido demais pra fingir indiferença. Ela riu e respondeu sem nenhum constrangimento:
“Trabalho no job… garota de programa, sabe.”
Dei aquela risada nervosa de quem não sabe como prosseguir, mas recuperei rápido e disparei a pergunta mais idiota possível:
“E como está sendo o trabalho nesses dias de chuva?”
Ela riu. Riu de verdade. E eu percebi que não só era bonita, como ria com o corpo todo. Disse que os últimos dias estavam fracos, que tava complicado pagar as contas e que o plano era seguir assim só até terminar a faculdade de administração, depois abandonaria a ocupação atual.
Seguimos conversando, como dois desconhecidos que sabem que aquele momento só existe por causa da chuva. Falei de planilhas, dos holerites e da declaração de imposto de renda, ela falou de clientes fixos, de vida corrida, de saudade da mãe, da falta de um amor verdadeiro. Não sei se tudo era verdade, mas também não quis saber, sei apenas que atiçou ainda mais a minha curiosidade e, à medida que a conversa fluía, comecei a gostar mais de estar com ela, no sentido mais esquisito e mais bonito da palavra. Era a primeira vez que eu conversava com uma garota de programa e fiquei curioso, querendo saber detalhes que jamais havia pensado antes daquela ocasião.
Perguntei se ela já tinha saído com algum famoso. Ela fez mistério, disse que sim, piscou, e eu ri como um idiota. Eu ri feito bobo, um riso leve, juvenil, que fazia tempo que não aparecia. Me senti com vinte e poucos, voltando da balada de madrugada, cheio de histórias inventadas.
E foi nesse clima, meio flerte, meio piada, que senti o corpo dela encostar no meu, de leve, quase nada, mas o suficiente pra acender a faísca do desejo. O cheiro do perfume misturado com a chuva, a pele morna contra a minha, o toque acidental que parecia ensaiado. Fiquei ali, por um segundo, imaginando o que viria depois. Um motel discreto, um lençol seco, um beijo urgente, os corpos se reconhecendo com pressa, se aquecendo ao poucos.
Mas então, no meio desse devaneio, ela desapareceu por um instante e surgiu outra figura. O sorriso da minha esposa, grávida de oito meses. E, entre o desejo e a consciência, escolhi o que tinha menos culpa:
“Topa um café?”
Ela sorriu. E aceitou.
Ficamos mais de uma hora ali, rindo, falando besteira, tomando capuccino e fingindo que a vida era simples. A gente se divertia como dois velhos amigos que tinham acabado de se conhecer, o tipo de conversa que vai do nada ao lugar nenhum, mas que preenche. Um “você acredita que eu odeio pudim?”, seguido de um “como assim você não tem Netflix?”. Rimos muito. De coisas bobas, da chuva que não parava, de um homem de terno escuro e meias brancas, que lembravam o Michael Jackson. Rimos até do nosso encontro sem pé nem cabeça. E eu me senti ainda mais atraído por ela. Mas, antes que cedesse à tentação, pedi a conta, com aquele sentimento de fim de recreio.
A garrafa de água ainda cheia, o copo de café quase vazio, a vontade de ficar mais um pouco. Ela me olhou daquele jeito que a gente olha quando sabe que vai embora, mas gostaria de não saber. Chegou perto, me deu um beijo na bochecha, quase boca, e disse, com aquele meio sorriso que engana e promete:
“Quem sabe a gente não se encontra de novo num dia de chuva forte como esse?”
Assenti, e não falei nada. Temi que qualquer palavra dita quebraria o encanto do momento.
Fiquei ali parado, vendo ela ir embora. O guarda-chuva vermelho parecia flutuar sobre o asfalto molhado. Os carros passando, os faróis refletindo nas poças, a cidade seguindo como se nada tivesse acontecido. E ela virando a esquina, como se tivesse vindo de um sonho. Um sonho com cheiro de café e cabelo molhado.
Me deu uma saudade esquisita. Daquelas que não avisam e que a gente sente por algo que mal aconteceu, uma nostalgia do instante, do que quase foi, do que ficou no ar. Fiquei imaginando o que teria acontecido se eu tivesse seguido outro caminho, se a chuva não tivesse apertado, se o meu guarda-chuva estivesse inteiro. Fiquei imaginando se, ao invés do café, a gente tivesse ido a um motel.
Mas São Paulo tem dessas. Te pega pela gola, te joga no meio da rua com os pés encharcados e, quando você menos espera, te dá um encontro improvável de presente. Só que depois leva embora. Sem número de telefone, sem sobrenome, sem chance de procurar no Instagram.
E aí, tudo o que sobra é esse tipo de lembrança que a gente guarda como quem esconde um bilhete antigo dentro de um livro. A história toda está ali, mas ninguém mais vai ler.
LEIA TAMBÉM

A maioria das queixas servem apenas para estatísticas da polícia. Apen...