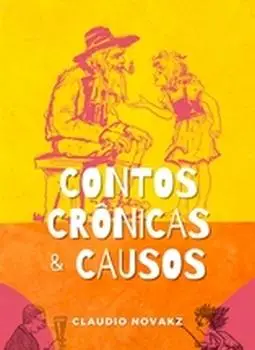PROSEANDO
CONTOS, CRÔNICAS, ETC.
DA JANELA
Abri a cortina da sala e fiquei observando as crianças brincarem na rua. Apesar do tempo frio, o dia amanheceu um pouco mais claro e sem garoa e, por conta da melhora no clima, as pessoas caminhavam dispostas, com um quê de alegria estampado no rosto. Mulheres passeavam com seus cãezinhos, e os jovens se divertiam com a lepidez que lhes é peculiar. Quando abri um pouco mais a cortina carmim de veludo, uma brisa gélida veio ao meu encontro. Dei outra volta com o cachecol em torno do pescoço, apoiei o rosto sobre a palma da mão e continuei observando a movimentação lá fora.
Era início de inverno, intercalando dias claros de frio seco com dias sombrios de garoa fina. Apesar da claridade do sol que, às vezes, surgia tímida atrás das nuvens carregadas nos mais variados tons de cinza, o tempo nublado e dias úmidos deixavam a minha casa cheirando a mofo. Com um pouco de sorte o sol daria o ar da graça e afugentaria os dias de inverno. Pelo menos era o que eu esperava.
Em outros tempos, eu também estaria caminhando entre aquelas pessoas. Mas os tempos são outros. Só me resta observar a movimentação dos passantes que sobem e descem a rua pela qual eu havia caminhado durante tantos anos da minha vida.
Logo após meu casamento, cinquenta anos atrás, conseguimos um financiamento pela Caixa Econômica e compramos a casa ainda em início de construção. Na época, o bairro da Mooca era bastante sossegado e as poucas casas na nossa rua seguiam o mesmo padrão, com telhado duas águas, no estilo americano, e varanda à frente.
A varanda, com seu piso de caquinhos e mureta baixa encimada por lajotas vermelhas, era um espaço especial para mim. Nas paredes laterais, eu pendurava xaxins com samambaias de metro intercalados com vasos de petúnias que ficavam floridos o ano todo e, nos momentos de folga, me sentava na cadeira de balanço e ali passava o tempo, ora lendo um livro, ora observando a movimentação na rua.
Naquele tempo, ainda era costume cumprimentar desconhecidos e, não raramente, minhas leituras eram interrompidas por algum cumprimento amigável ou pela vizinha do lado que se aproximava a fim de contar novidades sobre um ou outro morador da rua.
“Sabia que a filha da Nivalda vai se casar com o boticário?” noticiava ela num dia. “Zelito arrumou emprego no Banco do Brasil!” contava no outro.
As notícias eu ficava sabendo ali mesmo, sentada na minha varanda! E da minha varanda eu vi a rua de terra batida ser asfaltada, as árvores serem derrubadas e as casas antigas cederem espaço para construções modernas, com altas janelas de vidro e portas suntuosas de madeira. Minha casa se tornou a mais modesta da rua, mas a minha varanda continuou sendo a mais aconchegante.
Meu marido era alfaiate e eu, professora. Lecionava no grupo escolar Cora Coralina, cinco quadras rua acima, e ainda me recordo bem da minha primeira turma, uma sala do primeiro ano do primário. Hoje se chamaria ciclo básico, mas naquela época era primário. Todo dia algum aluno me levava um mimo. Um pé de moleque, uma paçoca, ou um pacote de gotas de pinho Alabarda. Para retribuir o carinho da sala, eu lhes presenteei com várias festinhas, sempre às sextas-feiras, com direito a bolo e Ki-Suco. Foi uma época boa da qual me recordo com uma pitada de nostalgia.
No ano seguinte, passei a lecionar para as turmas da quinta e sexta séries. Os alunos do ginásio já eram crescidos e em nada se pareciam com a minha turma do ano anterior. Eram pré-adolescentes com trocas de olhares enamorados e comentários indiscretos durante as aulas, mas eram crianças e nada como uma dose de carinho para domar-lhes o espírito irrequieto. Essa turma não me deixou saudade como as minhas crianças da primeira série, mas também não posso reclamar. Aprendi muitas gírias usadas por aqueles jovens e também aprendi a gostar de músicas que jamais havia escutado e, às vezes, eu me pegava cantarolando pela casa enquanto meu marido ficava intrigado querendo saber o significado daquelas palavras. Esboçava um sorriso irônico e meneava a cabeça.
Como eu sempre chegava em casa mais cedo do que meu marido, eu preparava o jantar e quando ele retornava do trabalho a refeição estava posta à mesa. Às sextas-feiras, religiosamente, Jonas me trazia um buquê de flores, cada semana uma flor diferente, durante quase quinze anos. Rosas, cravos, amarílis, margaridas. Eu colocava em um vaso de vidro e deixava no centro da mesa para poder apreciar enquanto jantávamos. Eu me sentia uma mulher realizada! Minhas crianças da escola eram o meu prazer durante o dia, e, à noite, o abraço do Jonas era meu porto-seguro. Ele era um amante inveterado, um companheiro para todas as horas, o melhor marido que uma mulher poderia ter.
Para completar a nossa felicidade, Deus nos deu nosso primeiro filho. Paulo era a cara do pai, loirinho e com olhos azuis, arregalados. Dois anos depois Deus nos enviou o Roberto. Este nasceu parecido comigo, moreno e com os olhos cor de amêndoas, e minha vida se tornou graciosamente turbulenta. Precisei deixar de lecionar e passei a me dedicar integralmente à família.
E que ocupação prazerosa! Sem dúvida foi a melhor época da minha vida. As noites se tornaram mais curtas e os dias mais longos, mas não posso reclamar. Todo cansaço ou sono perdido eram recompensados pelo carinho que eu recebia. Assim a vida foi passando, meus filhos foram crescendo, e eu me sentindo cada dia mais amada.
Entretanto o universo parece conspirar contra a felicidade das pessoas. Em uma noite chuvosa de março, Jonas saiu da alfaiataria e se dirigiu até a parada de ônibus na Celso Garcia, como sempre fazia. Enquanto esperava pelo coletivo, um veículo desgovernado, talvez pela pista molhada, talvez por falta de visibilidade, não sabemos, se chocou contra o ponto de ônibus onde ele estava, ceifando a vida do meu marido e de outras duas pessoas. Minha vida nunca mais foi a mesma e até hoje me pergunto o porquê de Deus ter levado meu marido de forma tão abrupta. Seria pecado ser feliz?
Às vezes eu comprava algumas flores e enfeitava a mesa, era a forma que encontrei para deixar meu marido vivo nas minhas lembranças. Fiz isso durante cerca de um ano, então percebi que ao invés de me sentir mais próxima do Jonas, eu estava perpetuando o meu luto. Foram dias tristes de lágrimas contidas e choro calado, mas eu me mantinha forte perante meus filhos. A única testemunha dos meus choros foi o travesseiro, todas as noites, durante os anos que se seguiram.
O dinheiro do seguro que Jonas havia contratado logo acabou e, como as contas não deixaram de chegar, eu precisei voltar ao mercado de trabalho e, sem perceber, acabei me tornando uma mãe ausente. Mas não havia outra opção, tinha os filhos para cuidar e uma casa para manter.
Muitas vezes pensei em desistir, pois o futuro era incerto e eu não via motivo para seguir adiante. Para que empreender tempo e dedicação objetivando alcançar algo que a qualquer instante o universo tiraria de mim?
Mas o tempo, assim como a minha felicidade, passou rápido e depois de muito trabalho e privações, consegui colocar os meninos na faculdade. O mais velho se tornou um advogado e, logo após a graduação, se mudou para a Lapa, na zona oeste. O mais novo é o chef de um restaurante no Itaim Bibi e vive viajando, fazendo cursos de aperfeiçoamento no exterior. Confesso que me sinto envaidecida em ser mãe de um doutor advogado, talvez seja o meu maior orgulho dentre os poucos motivos que me sobraram para ter alguma vaidade.
Paulo me visitou no último Natal e me trouxe uma caixa de bombons, e Roberto me trouxe uma colomba pascal na última Sexta-feira Santa, depois não os vi mais. Sinto falta do abraço dos meus filhos, de poder afagar-lhes os cabelos como eu fazia quando eram pequenos, mas não posso exigir que venham me visitar, porque se tornaram homens importantes e a ocupação com o trabalho lhes furta todo o tempo.
Naquele instante, uma pomba branca com as pontas das asas amareladas de sujeira pousou no parapeito da janela e me despertou das minhas divagações. Há mais de um mês ela se tornara minha única visita e, em troca, eu lhe dava um pouco de arroz ou alguns pedaços de pão. Pombas são bichos inteligentes e quando encontram alguém que lhes dê alimento, elas costumam retornar. As pessoas dizem que elas transmitem doenças respiratórias ou algo assim, mas por que eu haveria de espantá-la se suas visitas diárias eram o único motivo que me fazia levantar todos os dias?
Depois que minha amiguinha encheu o papo, ela voou satisfeita. Talvez retornasse no dia seguinte, talvez não, num mundo de felicidades incertas não há como saber.
Permaneci debruçada sobre o parapeito da janela por mais algum tempo, quem sabe um vizinho passasse e notasse a minha presença, ou, com um pouco de sorte, um dos meus filhos entrasse portão adentro. Uma mulher passou com um cãozinho no colo, seguida por outra empurrando um carrinho de bebê. No sentido oposto passou o carteiro e deixou um envelope no portão do vizinho. Mas ninguém olhou na direção da minha janela, ninguém acenou para mim. E meus filhos não vieram me visitar. Quem sabe no dia seguinte…
Fechei a cortina, voltei para a cama e me cobri com o edredom cheirando a mofo, deixando apenas a cabeça para fora. A temperatura parecia ter caído ainda mais, e eu sentia as pontas dos dedos congeladas. Suspirei fundo, me virei para o canto e fechei os olhos. Na parede, o tic-tac do relógio prosseguia a sua jornada, contínua, solitária.
LEIA TAMBÉM